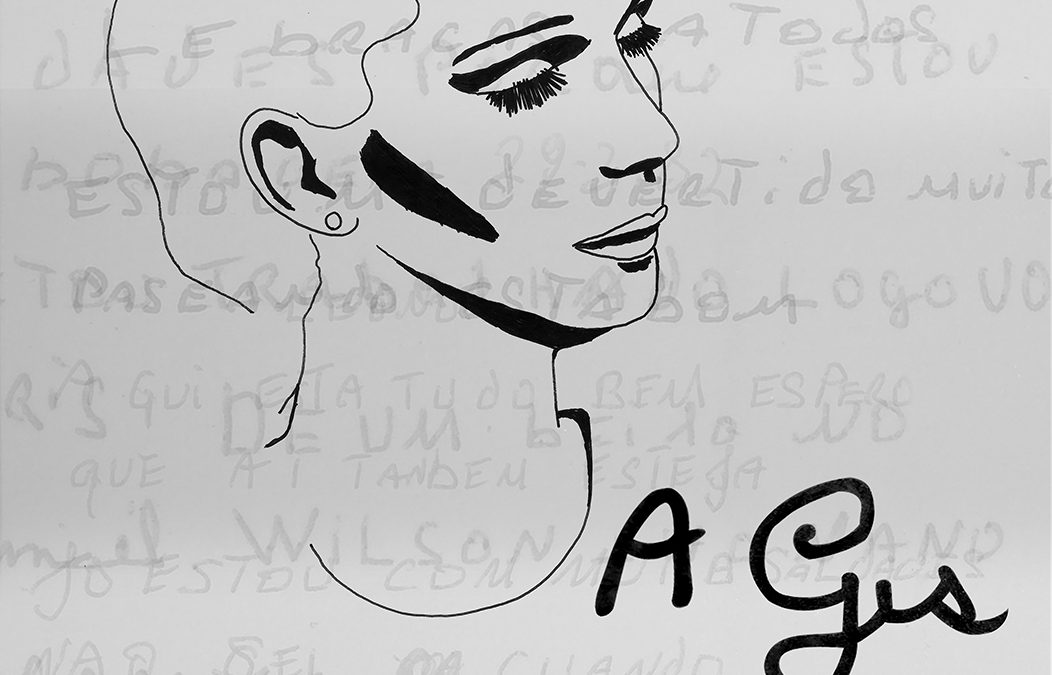Crítica escrita por Helena de Araujo Zimbrão, graduada em cinema pela UFF
A Gis, de Thiago Carvalhaes (2017), se ancora na linguagem investigativa do gênero true crime para remontar um crime de transfobia que culminou no assassinato de Gisberta, uma transexual brasileira que vivia como imigrante em Portugal. Entretanto, ao contrário de muitos outros filmes do mesmo gênero, o curta consegue construir uma narrativa que não espetaculariza nem romantiza a violência.
O filme começa nos situando no tempo e no espaço: temos a data e o local do crime. Não vemos a vítima, mas ouvimos a narração listar os objetos que ela carregava consigo. É através de seus pertences pessoais, encontrados junto a seu corpo, que estabelecemos nosso primeiro contato com Gis. A partir daí, levantam-se uma série de dúvidas e começa a ser criado um imaginário especulativo sobre quem é essa personagem e o que de fato aconteceu com ela.
Os filmes de true crime costumam se utilizar dessa premissa: atiçar a curiosidade no espectador para reconstruir o caso até que, no final, é apresentada uma resolução do crime. Mas A Gis joga uma lente de sensibilidade sobre uma história brutal, tirando um pouco o foco da violência explícita e colocando em primeiro plano a lembrança remanescente de Gis quase dez anos após sua morte. Aqui, somos instigados a saber como essa mulher trans é lembrada até hoje pelas pessoas que estavam à sua volta e principalmente, por que é tão importante que sua história não caia no esquecimento.
No fim da década de 80, Gis saiu de São Paulo em direção à Europa, pois na época a Polícia Civil do Estado executava a Operação Tarântula, cujo objetivo era prender transexuais. Gis estava em busca de “um lugar em que ninguém lhe fizesse mal”, como diz o lindo poema de Rhut Bianca, recitado no filme em uma de suas cenas mais comoventes. Será que Gis encontrou esse lugar seguro? Seria ele seu lar, esse antigo apartamento que se apresenta na tela em planos detalhes enquanto escutamos a eu-lírica do poema pedir a São Pedro que a deixe entrar no céu, por mais que ele não compreenda o corpo travesti – despedaçado e remendado – que se apresenta em sua frente?
Até o momento, ainda não vimos o rosto de Gis. Sabemos apenas que ela tinha cabelos longos e loiros, parecidos com os de uma cantora que sua amiga Katy Vandolly nos mostra. Ouvir Katy falando sobre Gis é poder compartilhar de uma lembrança sobre alguém que nunca conhecemos. Nesse sentido, o documentário deixa de ser uma mera explanação de uma história real e convida cada espectador a imaginar sua própria versão de Gis, criando assim uma relação de memória com sua imagem, a partir de referências individuais. Afinal, quantas Gis existem por aí, cuja história é lembrada por poucos, ou sequer conhecida?
Através de Domingos e Leonor – irmão e cunhada de Gis – conhecemos um pouco mais sobre sua infância e sua relação com seus familiares. Ambos se referem à Gisberta pelo pronome masculino, mas apresentam ela como “Tia Gis” aos filhos pequenos, sob o pretexto de que eles são jovens demais para compreenderem a orientação de gênero da Tia. “Não vai explicar para uma criança, né?”. Essa fala de Leonor ganha outra dimensão quando tomamos conhecimento que os responsáveis pela morte de Gis eram um grupo de crianças e adolescentes.
Talvez a idade dos assassinos de Gis seja um dos fatores mais chocantes nesse crime de ódio. Para além de todas as questões sociais e subjetivas que levam alguém a cometer um assassinato, o fato é que o filme também chama atenção para os malefícios de não se debater questões de gênero com crianças e adolescentes. Existe uma idade certa para falar sobre intolerância? Por que devemos “proteger” nossas crianças de terem contato com temas considerados como tabus se isso não as isola de reproduzirem as violências de uma sociedade opressora e preconceituosa? E quem protege as vítimas desses crimes de ódio?
Voltando ao tema do reconhecimento do nome social – causa tão cara à comunidade trans – uma cena específica faz uso de um jogo de montagem inteligente para provocar uma reflexão. Domingos afirma com convicção que a irmã assinava as cartas que escrevia para ele como Gisberto. Mas o que vemos na tela é uma sequência de cartas assinadas como “Gisbert”. Assim mesmo, sem a última letra, um ponto final apenas. Seria um recurso utilizado por Gis para manter o gênero neutro? Estaria Domingos tão cego na própria intolerância a ponto de confundir um ponto final com a letra “o”?
“Então, mesmo assim, eu amava ele. Só não amava o que ele era.” Essa é a última fala de Domingos sobre a irmã. Por mais paradoxal que possa parecer essa afirmação, não temos dúvidas sobre sua veracidade. Os planos fechados nos rostos de Domingos e Leonor enquanto escutam Balada de Gisberta nos revelam os sentimentos conflitantes que residem dentro de cada um, despertados pela memória de Gis – memória essa que compartilham conosco. A música composta por Pedro Abrunhosa e comoventemente interpretada por Maria Bethânia foi a fonte inicial de inspiração para a realização do curta, de acordo com o diretor.
O curta se encaminha para o seu desfecho, trazendo uma detalhada narração cronológica dos vários dias em que Gis fora agredida, até o momento de sua morte. A escolha por detalhar o crime apenas por áudio e não por imagens foi um acerto. Na tela, vemos poucas velas acesas em um ambiente muito escuro. As velas vão lentamente se apagando conforme a narração avança até que a imagem fica toda preta. O tom de seriedade e tristeza que a cena pede é mantido, mas sem explorar de maneira espetacularizada a imagem violentada do corpo travesti. Inclusive porque, até o momento, ainda não vimos a imagem de Gis nenhuma vez. Não faria sentido que a víssemos pela primeira vez dessa forma, agredida e assassinada. Tampouco faria sentido se nossa última lembrança de Gis fosse essa. Afinal, por mais que não vejamos seu cadáver, somos perfeitamente capazes de imaginar o crime acontecendo, ao passo que a narração nos conduz pelos detalhes do ocorrido. O diretor sabe disso e escolhe não terminar o filme assim.
Nos últimos minutos do curta, somos apresentados a imagens que remontam aos dias em que a mãe de Gis esteve em Portugal visitando-a. Momentos que parecem ter sido felizes, momentos em que Gis parece ter encontrado esse lugar seguro, em que ninguém poderia lhe fazer mal. Em tela cheia, lemos nas cartas que a mãe escreve para a família no Brasil: “a Gis”, no feminino. O filme o tempo todo nos convida a construir um imaginário sobre a figura de Gis a partir de lembranças de terceiros até que finalmente vemos seu rosto em uma última e lindíssima sequência de fotografias ao som de Balada de Gisberta. É assim que Gis merece ser lembrada: bela, feliz e viva!
A repercussão em torno do caso de Gis desencadeou em uma série de manifestações culturais, ações populares e políticas públicas, dentre elas a primeira marcha LGBTQIA+ na cidade do Porto. Até hoje a comunidade trans luta por direitos básicos que lhes são negados por parte do Estado e da sociedade civil. O filme é didático em sua última cartela: o Brasil é o país que mais mata travestis no mundo. Histórias como as de Gis não podem ser esquecidas, mas pensar a forma de contá-las também é fundamental, para que não se caia na exploração apelativa da violência. A Gis consegue alcançar um equilíbrio único ao contar uma história tão brutal pela lente poética da memória.
O curta está disponível no link: https://vimeo.com/210177296